Quando eu morava em São Paulo, todo ano, religiosamente, passava o Natal e Ano Novo em Fortaleza, com minha mãe e a família. Como tinha (e ainda tenho) medo de pousos e decolagens, tentava sempre obter lugar num vôo que fazia escala apenas em Recife.
Certa vez, no saguão de Congonhas, encontrei um velho conhecido cearense com quem comecei a conversar. Como íamos ambos para Fortaleza, e pela Varig, na hora do embarque nos encaminhamos juntos para o avião. Só a bordo, em pleno ar, é que fiquei sabendo que aquele era o avião “dele” e faria escalas também no Rio e em Salvador! Nem eu, nem o conferencista de vôo, nem a comissária de bordo, tínhamos nos apercebido do engano. Por sorte, os dois vôos se reencontraram em Recife e o problema foi automática e naturalmente corrigido.
Noutra ocasião, como o Natal e o Ano Novo caíam na quarta-feira, a agência resolveu escalar plantões: metade da criação trabalharia no Natal, a outra metade no Ano Novo. Optei por folgar no Natal e marquei meu vôo de volta para o dia 29, um domingo. A família insistiu para que eu ficasse, mas, muito “cdf”, fui embora. Na segunda-feira, lá estava eu, a postos, com mais dois ou três colegas. Fomos almoçar e, na volta, encontramos um memorando em cima das nossas mesas, dispensando-nos do resto do plantão! Fiz de tudo, mas não consegui lugar para voltar a Fortaleza. Foi o
Reveillon mais chocho da minha vida.
 Ano novo à moda da casa - vistos da janela da cozinha do apartamento, os mais belos fogos de artifícios perdem toda a graça.
Ano novo à moda da casa - vistos da janela da cozinha do apartamento, os mais belos fogos de artifícios perdem toda a graça.Na época em que trabalhei na Hot Shop – uma agência pequena, efêmera, porém inesquecível! – tínhamos como cliente uma construtora cuja sede era em Ribeirão Preto, a uns 500 km de São Paulo. Eu e o Pierre Rousselet (diretor de arte) fomos lá, de taxi aéreo, apresentar a primeira campanha. Saímos cedo de São Paulo, fizemos um vôo tranqüilo e chegamos antes das 9 da manhã. Na época era moda, principalmente entre publicitários, roupas “cheguei” – amarelo-fralda, rosa-choque, verde-limão, etc. – e eu estava vestido
up-to-date, com uma calça boca-de-sino cor-de-rosa e uma camisa bem estampada. Mas, ao desembarcar do pequeno Cessna, os fundos da calça descosturaram de alto a baixo! Saí pelo comércio de Ribeirão procurando calça que coubesse em mim (que, na ocasião, pesava mais de 100 quilos): encontrei só uma, listrada de azul, que não tinha a ver com nada. Paguei um belo mico.
De outra vez, fui lá com o diretor financeiro da agência; ele para resolver assuntos da sua área, eu para tratar de criação e mídia. Então já havia um vôo da Vasp, num Bandeirante, que durava cerca de uma hora, hora e pouco. Na ida, tudo bem. Mas, na volta...
Estávamos em pleno verão quando, à tarde, acontecem umas tais de “turbulências invisíveis”. E assim aconteceu: o diabo do aviãozinho, voando baixo (a cabine não era pressurizada), sacolejava pra tudo quanto era lado, até para cima! Fui entrando em pânico, cada vez mais, e só não dei vexame completo porque um outro passageiro se encarregou disso por mim, gritando “Pára, que eu quero descer, cadê minha mãe, sou muito novo para morrer” e outros apelos do gênero. Foi constrangedor mas, ao mesmo tempo, divertido. E serviu para relaxar a tensão de todos a bordo, inclusive a minha.
Em uma outra viagem, para gáudio geral dos passageiros, o constrangimento ficou por conta da tripulação. Num vôo cansativo de São Paulo a Fortaleza, com escalas no Rio, Salvador, Recife e Natal, a última etapa foi cumprida já depois da meia-noite. Iniciado o procedimento de pouso no Aeroporto Pinto Martins, o chefe dos comissários disse todo aquele palavreado habitual pelos alto-falantes. Acontece que, após encerrar seu bla-bla-bla, esqueceu de desligar o intercomunicador e soltou a franga: “Bicha, ainda bem que chegamos. Estou moooortaa!”.
Num vôo inverso, de Fortaleza a São Paulo, sentei-me, como gosto, numa das primeiras fileiras, no corredor. Em Recife, subiu uma senhora transportada nos braços por enfermeiros e acompanhada por um rapaz bastante solícito. Sentaram na mesma fileira que eu, do outro lado: ela na janela, ele no meio, outra passageira no corredor. Até o Rio, ele não fez nada além de beber; nem sequer quis jantar. Mas quando estávamos em procedimento de pouso no Galeão, com o cinto devidamente afivelado, aconteceu. O rapaz sentiu-se mal, não conseguiu sair para o corredor, e voltou-se para a janela, que vomitou de alto a baixo, sobrando inclusive para a passageira doente. Com o avião já quase pousando, foi preciso o comissário sentar-se na fileira de trás (ainda bem que havia um lugar) e segurar o rapaz para que ele não se machucasse.
A senhora doente desembarcou no Rio e, aí, descobrimos que o rapaz não tinha nada a ver com ela: seguia para São Paulo. Como ele estava bêbado, o chefe dos comissários tentou convencê-lo a descer para ser cuidado. Ele, porém, recusava veementemente, e começou a se exaltar. A certa altura, alguém lá de trás soltou uma piada qualquer, ao que ele reagiu levantando-se e ameaçando “enfiar a peixeira” em quem se metesse a engraçadinho. Risada geral.
Enquanto isso, o tempo estava passando e nosso atraso em terra já era superior a uma hora. Aí, o comissário-chefe teve uma idéia brilhante. Falou para o cara: “Você sabe que eu sou o chefe dos comissários, certo? E que o avião não pode levantar vôo sem mim, certo? Então façamos o seguinte: eu desço com você, a gente dá umas voltas na pista até você melhorar e, então, vamos embora pra São Paulo, O.K.?”.
O.K. O que ele não sabia é que tinha havido troca de tripulação. Foi só os dois se afastarem uns 10 metros do avião, o Comandante recolheu a escada, fechou a porta, ligou os motores e se mandou céu afora. Imagino a barra que o pobre comissário teve que enfrentar!
Quando fui de Salvador a Belo Horizonte, para conversar com a agência que estava me chamando, peguei um vôo da Vasp no qual serviram uma salada, digamos assim, problemática, que me proporcionou um final de semana de rei, ou seja, o tempo inteiro sentado no trono. (Apesar disso, deu para fechar negócio com a agência e, assim, com as bênçãos de Tia Suzana, mudei de Estado pela sexta vez!)
Enquanto morei em Belo Horizonte (diz-se Bê-Agá, em mineirês), vivi num vai-e-vem que chegou ao exagero! Tinha semana, por exemplo, que eu ia ao Rio duas, três vezes, voltando no mesmo dia. Já era até conhecido das moçoilas que atendiam nos balcões das companhias aéreas, da mesma forma que era manjado pelos taxistas. Alguns, por saber que eu morava próximo ao Aeroporto da Pampulha, achavam ruim fazer uma corrida que, além de baratinha, ainda lhes tirava a possibilidade de pegar uma outra maior e bem mais lucrativa. Pois é, uai!
Depois que me mudei para Brasília, as viagens de trabalho diminuíram (fui só uma vez ao Rio e outra vez a São Paulo). Em compensação, foi bastante instrutivo observar o procedimento das secretárias sempre que alguém da agência precisava viajar e, como de costume, se atrasava. Na maior cara dura, uma delas ligava para o aeroporto e pedia para “segurar o vôo xis só um pouquinho, pois o deputado já estava a caminho”. O truque era infalível: tinha sempre um Deputado (atrasado) na lista de passageiros. Não lembro de ninguém da agência que tenha deixado de viajar por haver perdido o vôo.
 Painel de embarque do Aeroporto de Brasília - para Deputados e Senadores, o painel de embarque do aeroporto de Brasília dá mais ‘Ibope’ que os painéis de votações do Congresso.
Painel de embarque do Aeroporto de Brasília - para Deputados e Senadores, o painel de embarque do aeroporto de Brasília dá mais ‘Ibope’ que os painéis de votações do Congresso.





.jpg)



















.jpg)












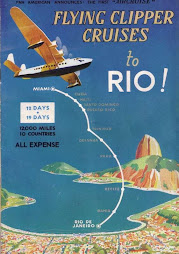













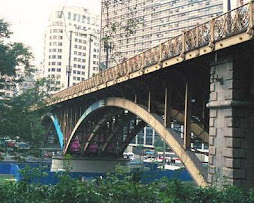






+franc%C3%AAs.jpg)







.jpg)




.jpg)

















.jpg)






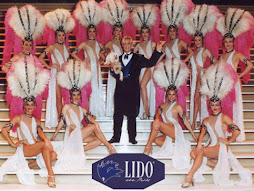



.jpg)












.jpg)










.jpg)
.jpg)




.jpg)




.jpg)


+ao+mar.jpg)




.jpg)





.jpg)



.jpg)





.jpg)












.jpg)
.jpg)



























.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


